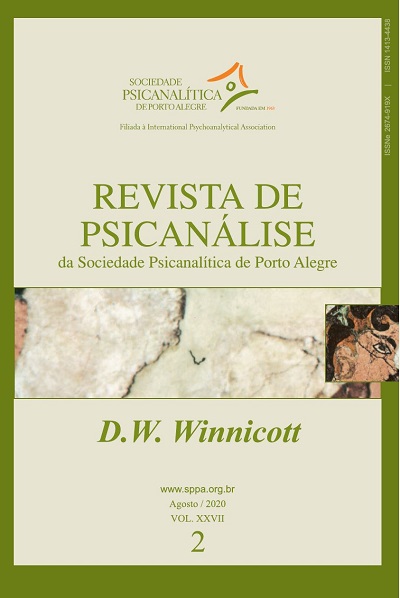Editorial
Resumen
Prezado(a) Leitor(a),
Temos a satisfação de entregar o novo número da Revista de Psicanálise,
que, em um esforço suplementar da comissão editorial, foi elaborado integralmente de forma on-line. Sua edição nos emociona e orgulha por podermos trazer ao público uma série de trabalhos que fazem jus ao vivo pensamento de Donald Woods Winnicott.
Winnicott é um dos autores mais traduzidos e citados na literatura psicanalítica, apesar de nunca ter pretendido fazer escola (Roussillon, 2014). É notável como seu pensamento encontra-se presente, seja de forma clara ou sutil, nos mais variados meios e culturas analíticas. Um pensamento estruturalmente dialético (Ogden, 1986/2017) que, em 50 anos de vida clínica, floresceu e resistiu desde os embates entre freudianos e kleinianos, passando pelo descrédito inicial decorrente da suposta superficialidade e simplicidade de seus escritos, para enfim se estabelecer em um lugar ímpar no cenário científico. Posição que se acresce e transcende ao seminal trabalho na psicanálise infantil desenvolvido por ele. Suas ideias fertilizam a produção teórica de inúmeros autores contemporâneos, que retomam as ideias de Winnicott e renovam-nas em sua clínica, especialmente àquelas abertas ao entendimento de traumas primitivos, às experiências do Infans, ao vivido, sentido e não ainda falável. São desenvolvimentos teóricos inestimáveis para a clínica atual e que repercutem em considerações técnicas. Uma psicanálise onde poderá se reeditar todo o processo da formação do sujeito e as perspectivas de entrada do objeto em um jogo relacional. No entanto, a que se deve tal capacidade de seguir fomentando tão fortemente o pensamento analítico? Importante aqui apenas esboçar linhas que fundamentam a escolha de Winnicott como tema desse número. Masud Khan, descrevendo o impacto da presença de Winnicott, refere: “Jamais conheci outro analista que fosse tão inevitavelmente ele mesmo. Era essa característica de ser inviolavelmente ele mesmo que lhe permitiu ser tantas pessoas diferentes para tanta gente” (Winnicott, 1958/2000, p. 11, grifos nossos). Segue dizendo que “cada um de nós que o conhecemos tinha seu próprio Winnicott” (p. 11), para então concluir que o clínico Winnicott formava um bloco único, inteiriço, com a pessoa Winnicott.
Essa descrição parece apoiar a ideia que as experiências de ser, a constituição do sujeito em si, ou seja, a verdade íntima do que se é e do que não se é, toma a frente como meta constitucional primitiva. Talvez uma meta assintótica, pois Winnicott sempre considerou o objeto como indissociável na constituição do sujeito, sendo sobretudo, como refere Roussillon (2014), um objeto capaz de sacrificar-se, deixarse apagar pela necessidade inicial e, a seguir, sobreviver à angústia da alteridade percebida pelo sujeito que está se constituindo, para finalmente compor uma relação de objeto: ambos os participantes são sujeito e objeto na relação entre seus verdadeiros selfs. Tal núcleo doaria verdade também àquilo que se poderia ser como analista, ao mesmo tempo em que se abriria para a particularidade/individualidade do paciente. Seria, em suma, o grande orientador do processo analítico. Desta forma, as experiências de ser e do ser, suas vicissitudes e a originalidade de cada indivíduo, que nos parece inovador na teorização de Winnicott e central também no trabalho clínico, tornou-se o fio condutor do presente número.
A convivência com a plena individualidade decorrente do sujeito pleno, como poeticamente nos recomenda Fernando Pessoa, marcaria a passagem de cada um. Com certeza tal pensamento marcou a presença na vida de um dileto colega, Romualdo Romanowski, que esse ano nos deixou, e para quem publicamos uma homenagem através das palavras de Zelig Libermann. Esperamos que esta sensível carta para o amigo Romualdo possa dar a dimensão do que ele representou e seguirá representando dentro de nossa sociedade, bem como para aqueles que estiveram mais próximos dele.
Os dois primeiros artigos publicados neste número buscam discutir o processo de constituição do sujeito pela presença do objeto e sua posterior e necessária percepção deste como não-Eu. Anna Ferruta, em O encontro entre o sujeito e o objeto não-Eu, realiza um minucioso estudo do pensamento de Winnicott acerca das relações objetais, desde a constituição do sujeito através do objeto transicional até o estabelecimento da alteridade. Para tanto, lança mão do conceito de integridade dos objetos (Bollas), uma estrutura potencial capaz de iniciar processos associativos e elaborativos. A seguir, Bernard Golse, em O sense of being em relação à criatividade. Ser ou existir?, discute duas possibilidades de entendimento do conceito de sense of being de Winnicott: o sentimento de ser, que consiste em uma etapa pré-existente à descoberta do objeto e onde o vínculo, e não o objeto, seria representado, e o sentimento de existir, que se refere ao ambiente e aos objetos que o compõem, então representados através da criatividade do brincar, permitindo o surgimento da intersubjetividade e do status subjetivo.
A publicação em português do artigo de René Roussillon, A criatividade: um novo paradigma para a psicanálise freudiana, busca trazer aos leitores de nossa língua o estudo do conceito de criatividade de Winnicott conforme desenvolvido em O Brincar e a realidade, colocando-o em diálogo com a metapsicologia freudiana. Assim, defende que o fenômeno da alucinação em Freud, pela concepção de Winnicott, seria um fenômeno psíquico na presença do objeto, pelo mecanismo de espelhamento, e em que o percebido poderia encontrar o alucinado e confirmar a concepção ilusória do criado-encontrado, definindo, por esta via, o que Freud referia como sendo domínio pulsional. As qualidades do feminino puro e de meio maleável do objeto são descritas para a adequada inscrição desses momentos informes vividos pelo infans. Uma fase subsequente da descoberta do objeto como outro-sujeito determinará que este se deixe usar, podendo ser “destruído” e sobreviver. Este movimento de jogo entre sujeito e objeto constituiria uma criatividade primária automática na fase vivida em processo ilusório e uma criatividade voluntária no contato com o objeto outro-sujeito.
Dois trabalhos são apresentados a seguir, considerando-se a sua interrelação conceitual com a criatividade. A elaboração imaginativa na origem da vida psíquica e suas implicações clínicas, de Marcia Regina Bozon de Campos e Leopoldo Pereira Fulgencio Junior, busca situar o surgimento e o desenvolvimento da noção de elaboração imaginativa na obra de Winnicott. A capacidade de elaborar imaginativamente sensações corporais nos primórdios da existência permitiria a integração psicossomática e a conexão entre o campo da sensorialidade, o campo afetivo e a vida de representação, estando na origem da possibilidade de
criar, sonhar, fantasiar, devanear, brincar e simbolizar. Eneida Iankilevich, em A presença da ausência do pai no desenvolvimento “rumo à independência”, estuda, a partir de vivências clínicas, a relação com o pai como fator de construção e reconstrução da identidade nas várias etapas da vida, apoiando-se nas concepções de Winnicott da passagem da dependência absoluta em direção à independência. Com base ainda nas formulações de Faimberg, busca dar sentido à necessidade da presença de um pai ao longo do desenvolvimento, como se referia Winnicott: para usufruir da rivalidade e da amizade que surge desta rivalidade entre os homens.
Em um caminho oposto àquele produzido pela adequada entrada do objeto na constituição do sujeito, surge o desenvolvimento teórico de Winnicott sobre o medo do colapso. No artigo O medo da loucura no contexto do a posteriori (Nachträglichkeit) e a reação terapêutica negativa, Jan Abram retoma a experiência de colapso consequente à desconstrução de uma defesa frágil recrutada pelo bebê traumatizado e que deveria ser revivida na transferência. Isto poria em revisão os conceitos freudianos de reação terapêutica negativa e de a posteriori, mas, sobretudo, ressaltaria as flutuações da relação pais-bebê, vividas primitivamente e reeditadas na relação analítica, que estão presentes no cerne da experiência passada e atual. A seguir, Maurício Marx e Silva apresenta Colapso e misoginia: da mitologia à perversão via web, no qual aborda a hipótese de que falhas no processo primordial constituiriam o núcleo de um narcisismo saudável a partir do espelhamento do duplo homossensual, levando inevitavelmente a algum grau de ambivalência contra o feminino, um núcleo misógino que, assim, seria de certa forma universal, eis que decorrente do desamparo inerente à imaturidade humana. Completando este conjunto, temos o trabalho O colapso do ritmo, de Luisa Maria Rizzo, que parte do impacto traumático da pandemia da COVID-19 para conduzir a sua leitura do medo do colapso. Apresenta a concepção de que a perda do ritmo relacional harmônico entre mãe/bebê ou, na atualidade de sua experiência, entre analista/paciente por ocasião da súbita passagem do setting analítico para via virtual, afetaria a necessária previsibilidade da relação por interferir no ritmo instituído e seguro.
A seguir, apresentamos quatro trabalhos que relacionam elementos teóricos de Winnicott com outros autores psicanalíticos. Winnicott & Klein: influências, continuidades e rupturas, de Leopoldo Pereira Fulgencio Junior, realiza uma análise crítica na compreensão das relações existentes entre as propostas teóricas de Klein e Winnicott, usando o conceito de inveja inata de Klein para considerar a concepção de Winnicott como uma aceitação do conceito ao integrá-lo em sua teoria. Luiza Moura, em Winnicott e a tradição ferencziana da elasticidade técnica, acompanha e integra elementos teóricos de ambos os autores, em especial o efeito traumatogênico do ambiente, quando incapaz de se adaptar às necessidades da criança, e a preocupação de expandir e adaptar a técnica para abarcar casos tidos tradicionalmente como não analisáveis, ressaltando, para tanto, o papel real do analista no processo. Sergio Gomes da Silva e Nelson Ernesto Coelho Júnior analisam a etiologia das neuroses em Freud e Winnicott no artigo Para uma nova etiologia das neuroses: notas a partir da teoria das relações objetais de Donald W. Winnicott. Partindo do estudo de elementos da psicanálise freudiana, os autores propõem uma nova etiologia a partir da teoria das relações objetais em Winnicott, orientando o uso da regressão à dependência a fases primitivas de falhas ambientais como parte da abordagem do sofrimento psíquico neurótico. Completa este grupo o trabalho de Walter José Martins Migliorini, que nos apresenta Método Esther Bick: observação dos fenômenos transicionais durante o primeiro ano de vida, no qual estuda o conceito de objeto transicional associado ao método Esther Bick, procurando demonstrar o quanto a constituição, perda ou recuperação da experiência de transicionalidade indicam um papel marcadamente ativo do bebê na experiência de sustentar o jogo relacional com sua mãe.
Completamos a série de trabalhos dedicados a Winnicott com a reflexão de Ana Lúcia Monteiro Oliveira no estudo Poltrona elástica? Divã transicional? Reflexões sobre a minha poltrona giratória. O artigo procura demonstrar o processo de estabelecimento de um espaço transicional na relação analítica que sirva para ambos os constituintes do par. Cogita, desta forma, que o uso de uma poltrona giratória poderá ser uma possibilidade técnica para pacientes que não disponham ainda de condições de ir para o divã, ao mesmo tempo em que acompanha seu próprio processo de estabelecimento da identidade analítica. Acreditamos que essa reflexão possa exemplificar um transcurso para a aquisição do desenvolvimento teórico e técnico de Winnicott, bem como para a constituição do espaço analítico a serviço de ambos os participantes.
Encerramos o presente número, na seção Temas Diversos, com Vida anímica primitiva e subjetividade: o que realmente disseram as pioneiras Spielrein e Deutsch, de Idete Zimerman Bizzi. O artigo retoma proposições teóricas originais das duas autoras, demonstrando a sua integração nos futuros desenvolvimentos da teoria analítica, mas, em especial, enfatiza a primitiva interação entre sujeito e objeto, reeditada na transferência, motivo pelo qual considera as duas como precursoras da intersubjetividade.
Desejamos uma boa leitura!
Renato Moraes Lucas
Editor Chefe da Revista de Psicanálise da SPPA
Descargas
Citas
Ogden, T.H. (2017). A matriz da mente. Relações objetais e o diálogo psicanalítico. London: Karnac. (Trabalho original publicado em 1986)
Roussillon, R. (2014). La créativité : un nouveau paradigme pour la psychanalyse freudienne. In Exploration en psychanalyse, La créativité chez D.W.Winnicott. Wordpress, 2014.
Disponível em https://reneroussillon.com/creation/creativite-chez-dww/
Winnicott, D.W. (2000). Introdução por M. Masud R. Khan. In Da pediatria à psicanálise: obras escolhidas (pp. 11-53). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1958)
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Atribuo os direitos autorais que pertencem a mim, sobre o presente trabalho, à SPPA, que poderá utilizá-lo e publicá-lo pelos meios que julgar apropriados, inclusive na Internet ou em qualquer outro processamento de computador.
I attribute the copyrights that belong to me, on this work, to SPPA, which may use and publish it by the means it deems appropriate, including on the Internet or in any other computer processing.
Atribuyo los derechos de autor que me pertenecen, sobre este trabajo, a SPPA, que podrá utilizarlo y publicarlo por los medios que considere oportunos, incluso en Internet o en cualquier otro tratamiento informático.